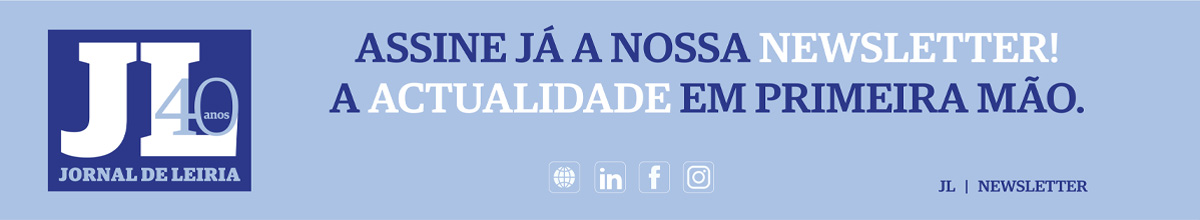Como é que uma professora com um trajecto marcado por viagens constantes está a lidar com esta nova realidade de distanciamento social?
Faz-me imensa falta andar pelo mundo. Gosto do contacto com as pessoas e de pôr o pé no chão. Gosto muito de viajar e tenho sempre em cima da mesa, ao longo do ano, vários projectos de viagens. Não são viagens turísticas. Só muito recentemente tenho feito viagens que se encaixam nessa dimensão. Ao longo destes anos todos, tenho feito viagens de trabalho, de projectos de desenvolvimento nalguns países, de projectos com organizações nãogovernamentais, onde tenho tarefas para realizar, e que me permitem ter uma abordagem muito mais realista. Nunca vou para um hotel. Vou para contextos mais reais. Estes contactos fazem-me falta, mas vou olhando para eles sempre numa perspectiva de adiantamento.
Foi fácil adaptar-se ao ensino à distância?
Para mim foi bastante fácil. Por um lado, eu tinha experiência de trabalho à distância, porque colaboro há muitos anos com a Universidade Aberta. E também temos mestrados à distância no Politécnico de Leiria. Por outro lado, entre os professores há uma camaradagem excepcional. Houve uma fase em que todos os dias nos consultávamos uns aos outros. Portanto, dei saltos tecnológicos enormes com a ajuda dos colegas. Estou entusiasmadíssima com estas aprendizagens.
Notou mudanças na postura dos alunos?
Aconteceu de tudo. A situação nos mestrados, de forma geral, foi mais facilitada, porque o número de alunos é mais reduzido. E porque estávamos no segundo semestre e já conhecíamos os alunos. Com essa relação já construída, mais próxima, existe todo um à vontade para incentivar ou para chamar a atenção. Embora nem tudo corresse sobre rodas. Sobretudo no início, os professores não tinham a noção completa do número e da profundidade de interrelações, nem do trabalho a solicitar. Da parte dos alunos, algumas vezes, também não havia sensibilidade para perceber que estávamos num contexto onde todos estávamos a aprender. E daí surgiam críticas positivas, mas também negativas. Mas, no cômputo geral, toda a gente fez bastante bem e quer professores quer alunos estão muito satisfeitos. Ainda que, com certeza, nos estágios, nas práticas pedagógicas, esses problemas sejam mais complexos do que num trabalho à volta de uma disciplina.
Perfil
Uma mulher do campo, na cidade
Maria Antónia Barreto nasceu a 11 de Dezembro de 1952 no Carregado, em Alenquer. É neste concelho que ainda reside e que gosta de passar o tempo livre entre as suas ovelhas, cavalos e uma burra. É licenciada em História, pela Universidade Clássica de Lisboa, e doutorada em Tecnologia Educativa/Ciências da Educação na Universidade de Bordéus II, em França. É professora-coordenadora na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Politécnico de Leiria e investigadora do Centro de Estudos Africanos do ISCTE. Ao longo de décadas tem vindo a desenvolver vários projectos de cooperação para o desenvolvimento nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa.
Esta nova realidade de ensino agravou as desigualdades sociais dos estudantes?
Veio aumentar as desigualdades sociais. E muito. Para que este ensino à distância funcionasse, as pessoas tinham de ter em sua posse a tecnologia, tinham de conhecer essa tecnologia e tinham de ter essa competência. E, entre os primeiros ciclos de ensino, as famílias tinham de ter sensibilidade para trabalhar com os filhos. E sabemos que a população portuguesa, tal como outras populações por este mundo fora, não tem. Muitas famílias continuam ainda sem valorizar a escola e também muitas famílias não têm a informação de base que lhes permita ajudar os filhos. As pessoas não têm recursos. Se em casa têm três filhos e um só computador, como é que a coisa é feita? Se não têm espaços em casa com sossego, onde é que a criança se coloca?
Fá-la lembrar das dificuldades que teve de ultrapassar para se formar.
Fiz a minha licenciatura à luz de candeeiro de petróleo. Tive electricidade e água canalizada em casa quando já era cooperante na Guiné Bissau e já tinha 30 anos. Mas os tempos eram tão diferentes que eu, a estudar com candeeiro de petróleo, era uma privilegiada junto das minhas colegas de escola que ficaram costureiras. Quando não iam trabalhar para o campo. Os mais novos não se dão conta do que acontecia há 50 anos, quando as famílias valorizavam a escola. Da antevisão que as pessoas tinham de que a mobilidade social vinha pela escola. Coisa que hoje já não acontece. Há 50 ou 60 anos, as famílias que tinham projectos de desenvolvimento da escolaridade dos seus filhos faziam um sacrifício enorme para que tal acontecesse. Os meus avós eram analfabetos e gente muito pobre. A minha mãe teve uma promoção enorme porque fez a quarta classe. E a minha mãe investiu imenso, e pelo meio ficou viúva, de forma a que eu e o meu irmão tivéssemos curso superior, o que na minha família era coisa inédita. Havia valorização dos percursos académicos. Valorização do professor, isso nem se questionava.
E ficou-lhe de tal forma na pele, que não poupou esforços para concluir o seu doutoramento.
Entrei no percurso de doutoramento completamente por acaso. Eu era professora num liceu em Lisboa e encontrei uma colega que me disse que tinha aberto concurso para trabalhar nas futuras Escolas de Educação. Lembrei-me de concorrer. Estava na maternidade a ter a minha filha mais velha, quando uma visita me disse “olha que tu entraste”. Isso implicava que eu fosse para Bordéus. A minha filha nasceu em Julho e em Novembro eu já [LER_MAIS]estava em Bordéus. Na altura, França era o fim do mundo. Depois, quando já estava em França, fiquei grávida do meu segundo filho, um rapaz, e quando regressei fiquei grávida do terceiro, outro rapaz, e tenho muita pena de não ter tido mais. A urgência obriga-nos a muita coisa, a que a gente se despache. E, na altura, as condições eram muito difíceis. Quanto terminei a tese não tinha dinheiro para a imprimir. Foi o meu irmão que me emprestou. Agora rio-me, mas na altura isto foi uma sucessão de apertos. Mas tudo se fez e ainda bem que se fez.
Tem sido uma vida de aventura.
Tem sido sempre assim, o que me dá um gosto enorme. Em 1978, eu tinha concorrido, tinha sido aceite, e até já tinha bilhete de viagem, para ir para a Alemanha de Leste. Mas naqueles tempos políticos quentes, o Estado não me deu autorização para deixar a escola onde dava aulas para ir para a Alemanha de Leste. Como eu queria mesmo sair do País, ver outras coisas, lembrei-me que poderia sair ao abrigo dos acordos de cooperação de Portugal com outros países. Fui à Embaixada de Cabo Verde e à Embaixada da Guiné e vim desta última com o problema resolvido. Fui parar à Guiné em 1978 e foi o início da minha relação com África, que mantenho ate hoje. O que a encanta nessas paragens? Encanta-me a sensação de retorno do trabalho que se faz. Quem passou por essas situações de ser cooperante e se encaixou, se deu bem com a relação, tem a sensação de colher o que semeia. Apesar de muitas perturbações nesses processos. Na Guiné Bissau os impactos não são na medida do investimento que se faz. O retorno é pequenino. Mas quando olhamos para aquilo que traz para a vida das pessoas, quando se acompanha o seu desenvolvimento… Mas quem precisar de grandes planificações passa mal nestes contextos.
Não é trabalho para toda a gente.
Nestes contextos, a pessoa tem de meter o coração ao largo. O que tiver de acontecer, acontece. Em Fevereiro estive em São Tomé e o avião parou no Gabão. Na vinda do Gabão para cá, ao colocar gasóleo no avião, esqueceram- se de colocar a tampa e fomos a perder combustível. Regressamos imediatamente e foi um milagre. Podíamos ter morrido todos. No entanto, a travagem brusca na pista fez rebentar os pneus. Tivemos de ficar ali num hotel à espera. Mas a mim isto incomoda- me pouco. É uma ocasião para eu falar com as pessoas que estão ao meu lado. Acho delicioso.
Acredita em Deus?
A minha mãe deu-me uma educação católica e ajudou-me imenso a criar os meus filhos, também educados na religião católica. Hoje, sou cada vez mais consciente da importância de princípios éticos, básicos, fundamentais, sem grandes preocupações com a religião.
Já a ouvi nalgumas ocasiões a lamentar que a escola não promova mais o sentido crítico dos estudantes. O que mais poderia ser feito nesse sentido?
A nível de mestrados, conseguimos que os alunos ponham em prática o sentido crítico, mais do que nas licenciaturas. Porque o número de pessoas envolvidas é menor. E se a isto se juntar uma forma de estar do professor, de não debitar receitas, de não avançar enquanto não houver sentido crítico, de ser o próprio docente crítico e claro, então o processo corre sobre rodas. Já em turmas grandes, com grande pressão do tempo, em que mal se conhecem os indivíduos, o trabalho é bem mais complexo. Num cenário idílico, havia que criar turmas com menos alunos. E também penso que, da parte dos professores, há que ser assertivo e valorizar determinados procedimentos pedagógicos, coisa que eu não tenho a certeza que a gente sempre faça. E é preciso por vezes mais bagagem dos alunos, trazida das famílias, das escolas, e isso também nos obriga a reflectir sobre o que são os exames nacionais e no que neles se valoriza. Mas não podemos generalizar.
Mas sente-se, por outro lado, grande apetência entre os jovens para se expressarem através das redes sociais.
Mas, nesse caso, trata-se de uma crítica muito superficial. Embora haja de tudo, cada vez menos se pode generalizar perfis e situações. Há por aí fora alunos excepcionais, jovens com um desenvolvimento acima da média. Tenho exemplos em casa, com os meus filhos, que são cidadãos do mundo, preparados pelo sistema de ensino de Portugal. Há potencialidades, há aprendizagens feitas graças à internet, que são extraordinárias. Depois, há a mediocridade.
Depois da morte de George Floyd, nos EUA, as redes sociais deram eco de situações de racismo em Portugal. E este sábado, também por alegadas motivações racistas, um actor negro foi assassinado em Moscavide. Somos ou não um País racista?
Há de tudo. Embora, comparando com os tempos vividos há 40 anos, a situação seja bastante diferente. Para melhor. O pai dos meus filhos é guineense e há 40 anos, quando eu passava na rua com ele, ouvia comentários do género “hoje é quinta- feira, mas já vi um preto, vou ter azar”. Riamos desta situação. Sempre olhei para isto de forma ligeira. A diversidade é uma riqueza. Portanto, nunca valorizei. E os meus filhos foram criados também nesta perspectiva, de que a diversidade é óptima. Eu avaliei muitas escolas no Montijo, no Seixal e com muita frequência apareciam docentes a dizer que as más classificações das escolas aconteciam porque tinham alunos africanos. Eu brigava sempre. E quando a conversa engrossava, perguntava- lhes: “então expliquem-me lá como é que eu tenho um filho preto que é bom aluno?”. As pessoas quase caiam da cadeira. Hoje isso já não acontece. Há racismo, umas vezes escondido, outras vezes não. Mas a situação, comparando com o que era há 40 anos, é de uma enorme evolução.
A crise económica que se instalou, fruto da pandemia, o medo de perder o emprego, o medo de perder qualidade de vida, podem acentuar estes ódios? Localizo isso junto de pessoas com menos informação, com menos escolaridade. Não generalizo, mas acho que onde há menos informação, manos escolaridade, é um terreno mais fértil para se propagar este tipo de ideias.
A pandemia também veio expor a difícil situação dos idosos em Portugal. Muitos deles isolados em casa, outros deixados em lares sem as mínimas condições.
Por que é que a nossa sociedade marginaliza os velhos? Também não podemos generalizar. Na sociedade portuguesa a gente encontra de tudo. Há pessoas que teriam condições económicas para ter os mais velhos nas suas casas e que os não têm, por facilitismo, e há pessoas que têm mesmo imensa dificuldade em assumir o enquadramento dos mais velhos. Essa dessensibilização de algumas pessoas em relação ao pessoal mais velho decorre da educação que se te tem. Se se desvaloriza as relações pessoais, isso pagase mais tarde. A minha mãe desempenhou um papel fundamental na educação dos meus filhos, o que fez com que cada um viesse do seu sítio do mundo, onde quer que estivesse, para ver a avó sempre que estava doente. As relações constroem-se. Se as pessoas são educadas completamente à margem, qual é a relação que vamos ter? Ou seja, quando o individualismo é cultivado desde início, por que irá mudar no fim?